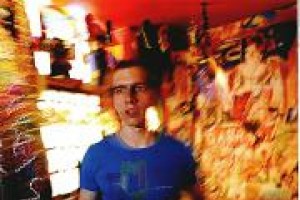
Não somos um país de classe média
05/01/2013
Não somos um país de classe média
A classe C está longe dos padrões e estilos de vida característicos
POR WALDIR QUADROS, DENIS MARACCI GIMENEZ E DAVÍ NARDY ANTUNES*
Para avaliar a emergência da classe C ou da chamada nova classe média dos anos 2000, é preciso considerar a longa estagnação econômica dos anos 1980 e 1990. A permanência da miséria e da pobreza, o atrofiamento da classe média constituída pela industrialização e os severos limites ao enfrentamento da grave questão social são conseqüências daquele período. Esse quadro sombrio foi modificado com a retomada do crescimento econômico em 2004, ainda que a taxas inferiores às do período de 1930 e 1980 e às dos países emergentes e da América Latina nos anos 2000.
Ao longo do governo Lula, viu-se progressiva reativação do mercado de trabalho formal, das oportunidades de negócios e do trabalho autônomo mais bem remunerado, reforçados pela expansão do crédito ao consumo e pela política de aumento real do salário mínimo, que também se refletiu nos benefícios previdenciários e assistenciais vinculados.
A forte geração de empregos na base do mercado de trabalho e nos segmentos intermediários inferiores, com sensível e contínua melhora em seus rendimentos, foi marcante neste novo momento, com grande impacto sobre a população de baixa renda. Os departamentos de marketing das grandes empresas, desde fins dos anos 1990, já percebiam as potencialidades dos consumidores de baixa renda. Com o avanço social recente, tal estratégia se fortaleceu.
----
Ao longo do governo Lula, viu-se profunda reativação do mercado de trabalho formal
Ladina. Profissionais como garçons, por exemplo, ainda têm carências de todo tipo
----
Para melhor compreender as mudanças na estrutura social, utilizamos uma metodologia de estratificação social adequada tanto à realidade brasileira quanto às características dos inquéritos domiciliares do IBGE. A definição dos padrões de vida não foi efetuada por critérios puramente estatísticos, mas pela sociologia do trabalho: as linhas de corte são determinadas pelas ocupações que se pretende captar.
A alta classe média - o topo da estrutura social, dado que as pesquisas não captam adequadamente a representação social dos ricos - inclui ocupações típicas, definidas aprioristicamente, inspiradas no sociólogo americano Wright Mills. São médicos, professores do ensino superior, engenheiros, empresários etc.
O mesmo procedimento foi adotado para a média e a baixa classe média. A última camada, composta de miseráveis, foi formada por todas as pessoas ocupadas que recebiam menos que o salário mínimo. A penúltima, a massa operária, engloba os trabalhadores pobres que se encontram entre os miseráveis e a baixa classe média.
A evolução da estratificação dos ocupados, indicativo das oportunidades individuais (tabela f), mostra expressiva redução daqueles que se encontravam na situação de miseráveis, com a correspondente expansão da massa trabalhadora (pobre), mas, sobretudo, da baixa classe média (remediada). A mobilidade é menor na média classe média e inexistente na alta classe média, o que reflete um padrão de crescimento econômico com limitada geração de empregos privados e públicos de melhor qualidade.
Da perspectiva das famílias, classificadas pelo membro mais bem remunerado - metodologia mais sensível à mobilidade social -, a melhora também é nítida, com grande redução dos indivíduos nos estratos inferiores e com crescimento expressivo nos superiores (tabela 2).
Seja pela posição dos indivíduos ou dos grupos familiares, os dados indicam grande e inequívoca melhora dos padrões de vida das camadas inferiores e um avanço importante nas camadas superiores, quando observadas as famílias.
Pesquisadores de instituições oficiais que, desde a década de 1990, se identificavam com a focalização das políticas sociais recomendada pelo Banco Mundial e instituições afins apontaram grande redução da miséria e a emergência de uma nova e pujante classe média. Seu foco "doutrinário" nos miseráveis gera uma estrutura social com uma classe média superdimensionada, determinada por uma linha de corte bastante baixa.
Em documento recente da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, "Vozes da classe média", 54% dos chefes de família sem escolaridade ou com ensino fundamental incompleto e 64% das empregadas domésticas - sabidamente o piso do mercado de trabalho urbano - são incluídos na nova classe média.
Argumentam que as políticas focalizadas, como o Bolsa Família, não só bastariam como seriam mais eficientes para reduzir a miséria e a desigualdade social. A retomada do crescimento econômico e a expressiva elevação real do salário mínimo são colocadas em segundo plano.
Outros entusiastas da nova classe média exaltam as virtudes do neoliberalismo. Defendem a aceitação do crescimento possível mesmo que baseado na desindustrialização, na reprimarização das exportações e no consumo de massa atendido por importações. Esta é a matriz da interpretação dos analistas conservadores que se dizem identificados com a justiça social. Com forte penetração nos meios de comunicação, confundem a opinião pública proclamando que viramos um país de classe média.
Comemoram, sem maiores qualificações, a classe média das empregadas domésticas e dos analfabetos, a menor desigualdade social e a queda da pobreza. Mas escondem o impacto do crescimento acelerado e a necessidade da reindustrialização e da reestruturação do setor público, que, ao suprir as carências históricas da educação, saúde, segurança, habitação etc, também resultaria na ampliação de uma verdadeira classe média.
A idéia de nova classe média de Wright Mills, nos anos 1950, era a do emprego de colarinho-branco - típico da grande empresa da segunda Revolução Industrial. Mas sua constituição variou sensivelmente ao longo do tempo e do espaço.
Os Estados Unidos do pós-guerra, transformados pela intervenção estatal da era Roosevelt, viram a afluência do white collar conviver com a persistência da pobreza e da limitada proteção social, num quadro de desigualdade social, política, racial etc.
Já na Europa Ocidental, o crescimento econômico dos Trinta Gloriosos, articulado à tributação progressiva e à proteção social, criou uma nova classe média distinta, com renda disponível pouco superior à da base do mercado de trabalho, reduzida capacidade de diferenciação do consumo e cercada de ampla proteção social.
A peculiar constituição da nova classe média no Brasil teve seu momento decisivo no Milagre Econômico. A expansão do emprego de colarinho-branco, junto à ampliação do leque salarial e do consumo de bens e serviços como forma de diferenciação social, marcou aquele momento.
----
Sobressai o trabalhador de serviços, com renda instável, vida precária e que trabalha o máximo que pode
----
A nova classe média brasileira - sem contar com a alta renda per capita e o elevado consumo norte-americano, tampouco com as benesses do Welfare State europeu - foi montada sobre intenso dinamismo econômico e profunda desigualdade social, favorecida por serviçais baratos, que tornaram a vida mais confortável, mesmo em comparação aos seus pares dos países ricos, conforme observam João Manuel Cardoso de Mello e Fernando Novais, em Capitalismo Tardio e Sociabilidade Moderna.
Com a terceira Revolução Industrial, a volta da dominância financeira e o fundamentalismo de mercado, os arranjos que produziram a nova classe
média no século XX foram desarticulados. Nesse mundo globalizado, em que as ocupações burocráticas típicas foram destruídas pelo computador, a crescente polarização social virou a norma. Sobressai na classe média o trabalhador dos serviços às pessoas, de renda instável, vida precária e que trabalha o máximo que pode. No caso brasileiro, acrescenta-se ainda nossa dívida social, a despeito dos avanços recentes.
Tratar as importantes mudanças sociais em curso como a emergência de um país de classe média é, do nosso ponto de vista, inadequado. A classe C, símbolo do crescimento recente, está longe dos padrões e estilos de vida que caracterizavam a nova classe média como a grande novidade do século XX.
A classe média baixa - auxiliares de escritório, vendedores, garçons, professores primários, policiais, auxiliares de enfermagem etc. - tem carências de todo tipo, não só em relação aos padrões de ocupação, rendimentos e consumo. Mas também das condições para educar os filhos, de saúde, de transporte, de moradia, de segurança pública. Isso revela a distância entre a vida da nova classe média do século XX e a dos anos 2000.
Portanto, não se pode deduzir da estrutura de consumo ou de rendimentos a estrutura de classes de uma sociedade capitalista moderna. Nem definir o Brasil como um "país de classe média" a partir desses critérios, sem considerar o desenvolvimento capitalista, a estruturação da sociedade e os padrões e estilos de vida historicamente constituídos.
O crescimento dos estratos do meio da distribuição de renda também não nos define como uma sociedade de classe média, já que isto expressaria grave rebaixamento de expectativas. Não desconhecemos as melhoras nas remunerações das empregadas domésticas e dos inúmeros trabalhadores populares, mas isso não os coloca como membros típicos da classe média.
Nos meios governamentais são freqüentes as manifestações a respeito da sociedade de classe média, o que é politicamente compreensível. Entretanto, tal postura pode conduzir a certo conformismo que deseduca politicamente a sociedade. Podemos imaginar que os sérios constrangimentos econômicos também estejam na origem dessa atitude, ou ainda que se trate de uma forma de se beneficiar do reconhecimento trazido pela afluência de amplos segmentos populares, para ganhar tempo e acumular força para enfrentar os enormes desafios de uma efetiva reestruturação industrial, tecnológica e dos serviços públicos.
De toda maneira, se com a crise financeira internacional no final do governo Lula os segmentos desenvolvimentistas ganharam maior espaço, é no governo Dilma que os avanços em questões cruciais são mais significativos: forte redução em todo o espectro de taxa de juros, defesa do câmbio, política industrial associada ao pré-sal e aos investimentos em infraestrutura, medidas iniciais de proteção à indústria diante da concorrência predatória dos importados etc.
No Brasil dos anos 2000, além daqueles que desconsideram a urgência de tais avanços estruturais, temos os que buscam minimizar os progressos e se alinham com a oposição política ao governo, sem interesse em reconhecer seus sucessos. De nossa parte, buscamos um ponto de vista crítico, capaz de reconhecer os progressos, mas também de identificar seus limites, contribuindo para o avanço rumo a uma sociedade mais igualitária e afluente, nos marcos de um padrão de desenvolvimento material, ambiental e socialmente sustentável.
*Waldir Quadros é professor associado e colaborador do Cesit/IE/Unicamp *Denis Gimenez é professor da Facamp e pesquisador colaborador do Cesit/IE/ Unicamp
*Daví Antunes é professor da Facamp
Fonte: Cofen.com
Imagem: Cofen.com